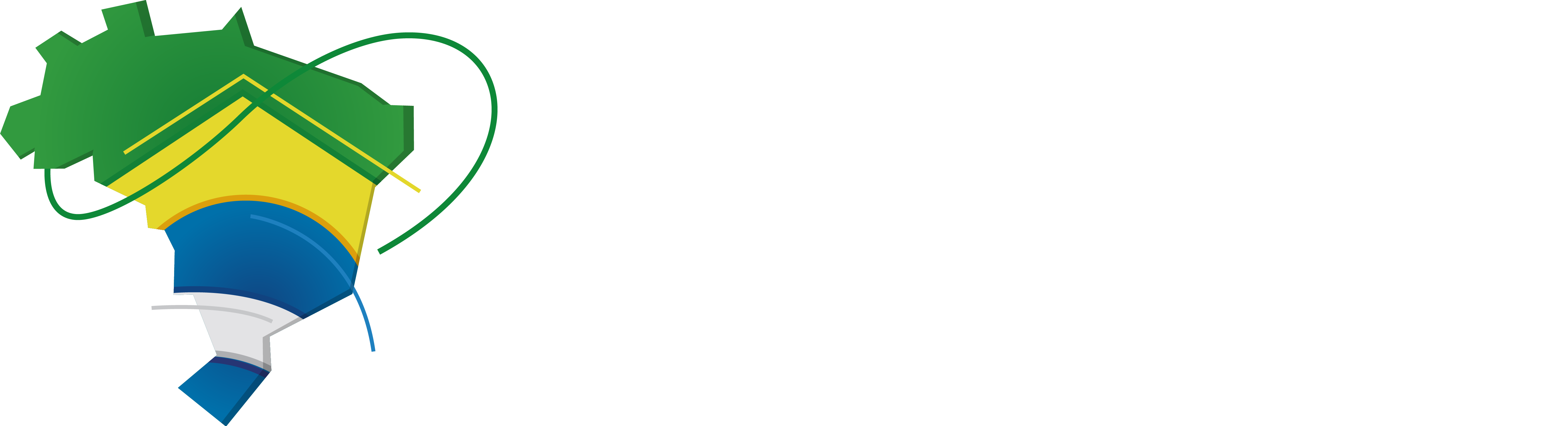Publicado no jornal Estadão
Vincular as receitas públicas a determinadas despesas é motivo de enormes controvérsias e esteve no centro dos debates quando da tramitação, no Senado, da Proposta de Emenda à Constituição no 186, que tratou das medidas de emergência para enfrentar o recrudescimento da pandemia do coronavírus. O Relator da proposta tentou aproveitar a oportunidade para supostamente aperfeiçoar o sistema orçamentário brasileiro, assegurando maior flexibilidade.
De um lado, há os que argumentam que vinculações são ineficientes e pouco democráticas. Ineficientes porque obrigam a utilização de recursos públicos em despesas cujas taxas de retorno social podem não ser as mais satisfatórias. Como sabemos, em economia estamos sempre pensando em custos de oportunidade. Isso implica que, em tese, poderiam existir usos alternativos melhores, mas que não acontecem em razão de destinações previamente estabelecidas. É que as escolhas talvez fossem as mais acertadas no momento em que foram tomadas, mas a dinâmica da sociedade e da economia podem ter alterado as prioridades, existindo usos mais eficientes para aqueles recursos no presente.
O argumento sobre o déficit democrático das vinculações aponta que prioridades de gerações anteriores da população e seus representantes acabam por prevalecer em relação às preferências da atual geração. A sociedade muda, as necessidades tornam-se outras, mas grande parte do orçamento público não consegue refletir os novos anseios. É como se os constituintes de 1988 tivessem decidido o que é relevante, restringindo fortemente as decisões das futuras gerações.
Pela regra atualmente em vigor, Estados e Municípios devem gastar, das receitas de impostos, 25% na manutenção edesenvolvimento do ensino. Para a saúde, Estados devem gastar no mínimo 12% das receitas de impostos e os Municípios, 15%. A União desvinculou esses percentuais, que eram de 18% e 15%, quando aprovou a Emenda à Constituição nº 95, no fim de 2016.
Desde então passou a reajustar anualmente os valores efetivamente gastos em 2016 pelo percentual da inflação. Mas, pela nova proposta, mesmo esse reajuste obrigatório poderia ser alterado, com o montante e a composição das dotações ocorrendo a cada ano. A grande vantagem das vinculações é que permite o planejamento de longo prazo. Como se assegura um percentual mínimo para áreas prioritárias, é possível planejar ações para os anos seguintes, com razoável previsibilidade. Pouca gente vai negar que saúde e educação são áreas estratégicas e que requerem investimentos por períodos extensos.
A grande desvantagem é que a sociedade muda, as prioridades se alteram. A mudança do perfil demográfico, por exemplo, exige modificação dos gastos públicos. Muitas pequenas e médias cidades têm convivido com a saída da população mais jovem. Com poucos jovens, há poucas crianças e, consequentemente, menor necessidade de escolas. Outras cidades, ao contrário, receberam grande número de jovens e crianças e precisam expandir a oferta de educação. Os 25% obrigatórios serão insuficientes para as segundas, mas poderão ser demasiados para as primeiras, que precisariam gastar mais em saúde e em assistência a idosos, por exemplo, mas não poderão fazê-lo. Tal destinação do orçamento é ineficiente, portanto.
Uma questão particularmente relevante é a decisão sobre como as escolhas públicas são feitas. Como se define que áreas terão recursos vinculados? É a mesma discussão que faço em meu “Curso de Finanças Públicas: uma abordagem contemporânea” sobre como se decide o orçamento público. No mundo ideal, a população diretamente ou seus legítimos representantes saberiam das necessidades mais prementes, ouviriam especialistas sobre as respectivas taxas de retorno social e avaliariam custos e benefícios a fim de decidir onde colocar o dinheiro e que despesas necessitariam de vinculações para assegurar maior previsibilidade e planejamento, dentro de uma estratégia de médio e longo prazo.
No mundo real, as coisas estão bem longe disso. A atuação dos lobbies e grupos de interesse é intensa e as decisões acabam em grande parte por ser resultantes dessas forças, muito mais do que fruto de decisões refletidas e tomadas em função de taxa de retorno social. Por isso é que áreas importantíssimas são claramente subfinanciadas. Por exemplo, saneamento básico, que certamente oferece uma das melhores relações entre benefícios e custos, não tem vinculações asseguradas. Não houve grupos de interesse fortes o
suficiente para convencer o Congresso Nacional disso.
A proposta de desvinculações foi retirada da PEC Emergencial. De fato, o contexto de uma pandemia certamente não é oportuno para uma discussão fundamental, mas que precisa ser muito amadurecida. Mas ocorreu na última hora o contrário: grupos de interesse agiram para incluir uma nova vinculação, dessa vez para ações de defesa nacional (“PEC que recria auxílio autoriza carimbar receitas para uso exclusivo de militares”, Estadão, 04/03/2021). É o mundo real, a “política sem romantismo”, na expressão de James Buchanan, Nobel de economia e líder da teoria da escolha pública, em que consegue mais recursos quem tem mais poder, não necessariamente quem apresenta maior taxa de retorno social.
*Edilberto Carlos Pontes Lima, doutor em Economia. Autor, entre outros, de Curso de Finanças Públicas, uma abordagem
contemporânea (Editora Atlas). Vice-presidente de Auditoria do
Instituto Rui Barbosa (IRB) e vice-presidente do TCE-CE